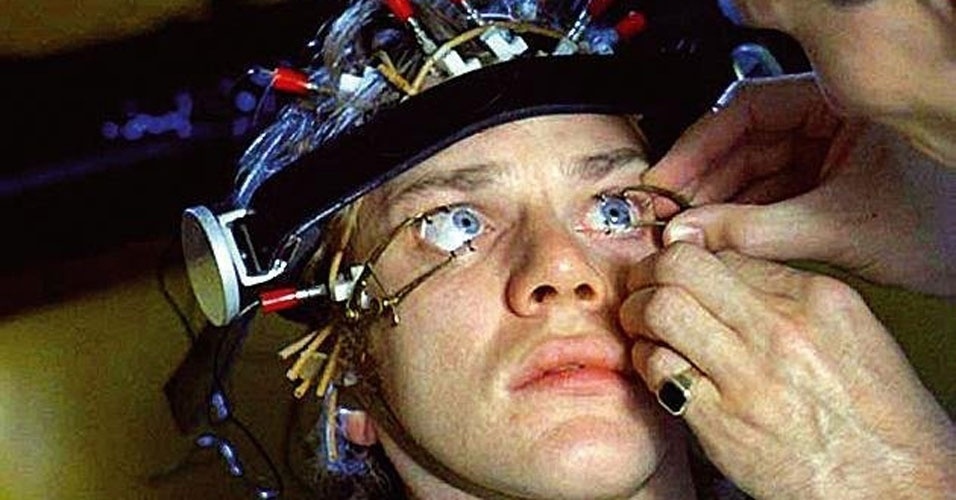“Os
Miseráveis”, o musical, é o esplendor do sofrimento; o transbordamento do
desprezo pelo semelhante; os píncaros da sarjeta; o cume da lama; o
transatlântico do desprezo. E mesmo que todo exagero áudio e visual, musical e
panorâmico, perca-se ou funda-se ou seja sugado por um buraco negro pictórico
onde as vastas cores da miséria viram um breu imemorial, uma lembrança restará,
resistente como um homem da primeira era industrial tratado com as delicadezas
do seu tempo: Anne Hathaway chorando e cantando como só a nossa Elis, até
agora, era capaz.
O choro de
Fantine, musicalizado com suprema emoção por uma atriz que, não dá pra
acreditar, outro dia ocupava-se de um inofensivo “Diário da Princesa” – vez em
quando entro no quarto da minha filha de 7 anos e lá está ela revendo o filme,
lá está Anne Hathaway antes de “O Diabo veste Prada” e tudo isso. O sumo da
miséria revestida pela fina película poética que nos salva enquanto humanidade
está ali, na mais pungente cena de um filme que é, do início ao fim, um grito –
um choro, um sentimento distendido até o limite do possível. O fato de ser um
musical explicita este caráter rasga-coração de “Os Miseráveis”. E não há
coração que jorre mais sangue, doce substância onde colocamos tudo o que somos
e o que gostaríamos de ser, do que o de Fantine/Hathaway.
Muito se tem
dito sobre o caráter meio hiperbólico do filme – sempre lembrando que a lente
de aumento dramática há de ser uma marca do gênero musical e é preciso, claro,
estar ciente disso antes de entrar na sala. Entrou, corte os pulsos junto com o
filme, como diria o comentarista dos desfiles de carnaval na Globo. Só que,
para além da pletora cênica, chama a atenção, numa linha menos óbvia, a face
moral do filme: a forma é tão exacerbada que esconde um pouco seu fundo. Mas o
fato é que “Os Miseráveis”, o musical, é também uma parábola moral inflexível
às relativizações do nosso tempo – como o livro, que eu não li mas pretendo, é
fruto de um outro contexto, facilmente esquecível pelos hedonistas tempos em
que vivemos. E olhe que nós reclamamos bastante.
Ao fim da
exibição, isso fica translúcido como as lágrimas de Hathaway: houve um tempo em
que um homem – todos – tratava assim outro homem – os outros todos. Éramos
miseráveis não apenas por não ter nada, nem um esgoto onde recostar o cadáver
que de nós restaria, mas também, e principalmente, pelos sentimentos que
abrigávamos na alma oculta sob as vestes físicas deste futuro presunto. Algo
mudou de lá pra cá, mas talvez ainda não tenha sido o bastante – é o que nos
diz, nos canta, nos chora “Os Miseráveis”.